Era uma vez....
- JPP
- 20 de jan. de 2019
- 9 min de leitura
Atualizado: 21 de dez. de 2020
NOTA: História para memória futura, numa altura do ano com significados imensos para que eu celebre a parentalidade e a filiação.

Preambulo – 2005
O texto que vos apresento é uma história na primeira pessoa. Como todas estas histórias elas acabam por provocar a exposição dos seus autores, o que me levou a estar alguns meses em dúvida sobre a eventual colocação pública. No entanto, e porque penso que este texto pode funcionar como um modesto contributo para o pensamento da problemática que ele envolve, e porque durante anos achei que poderia contribuir para a sua discussão, decidi finalmente colocá-lo on-line e assim fazer também o meu tributo aos meus pais, e através deles a todos os que se tornaram pais pela via da adopção. Aos leitores peço que me desculpem o incómodo, mas pela beleza dos meus pais, pelo seu encanto superiormente transmitido na relação de filiação que mantemos, deixem-me expressar a eles e exteriorizar a minha admiração e eterna paixão.
TEXTO ORIGINAL (sem qualquer modificação em relação ao original, apresentado por mim no II Encontro com a Ternura – Fundação Bissaya Barreto – Coimbra – 1994)
De todos os textos que até hoje escrevi, que não foram muitos, este foi sem dúvida alguma o mais difícil de elaborar. Não é minha intenção responder a todas as questões que possam eventualmente existir em todos vós aqui presentes, nem teria a veleidade de pensar que seria capaz de o fazer.
É normal em situações destas agradecer às pessoas que nos convidaram, esperando corresponder às expectativas postas neste meu depoimento e a quem agradeço principalmente o facto de terem organizado este encontro e ainda o despenderem grande parte da sua vida profissional preocupados com esta problemática. É ainda normal agradecer a quem tornou possível o trabalho que se apresenta. A estes, não agradeço, digo somente felizmente que nasci, felizmente que aqui estou.
Desde já, e ainda antes de vos contar a história incompleta e resumida que é a razão da minha presença aqui hoje, gostaria de pedir a vossa colaboração para colocarem questões às quais tentarei responder com a mesma sinceridade com que fiz este texto.
Já relacionado com a problemática que nos mantém aqui reunidos, gostaria de referir alguns aspectos que penso importantes:
Num primeiro momento, gostaria que pensássemos no abandono e na forma como este é levado a cabo pela família da criança em causa. Se esta situação é, em qualquer circunstância condenável, há no entanto formas diferentes de o efectuar, ou seja, há pais que o fazem estando presentes, há pais que o fazem abandonando com a ausência efectiva também da sua presença física, entregando a criança a instituições que a vão acolher e ajudar a encontrar uma família, onde seja amada e respeitada como ser humano e como filho. Pelo contrário, há aqueles que não pensam no que poderá acontecer quando abandonam o seu bebé, deixando-o ao acaso em qualquer sitio e entregue ao seu destino. Se na segunda situação somos levados a encarar o abandono como uma atitude de coragem, movida por incapacidades económicas ou de dificuldade na relação existente entre os pais do bebé, na última, o abandono é feito de forma irresponsável e criminosa. Nos finais do séc XX não deveria ser admissível, exceptuando situações muito específicas – de violação, por exemplo – a concepção de um filho sem ser previamente planeado.
Por outro lado, cada caso de adopção é um caso, uma vez que os intervenientes são também pessoas diferentes, que têm maneiras de ser e agir distintas e para quem a adopção pode assumir um valor muito próprio. Assim, se pensarmos na revelação, defendendo que esta, não tem uma idade própria para ser feita, mas encontra-se ligada ao modo como todos sentem e vivem a adopção, bem como a percepção que têm, no que respeita à altura do desenvolvimento da criança, sobre a qual consideram adequado revelar-lhe a sua história. Então, a forma como se faz esta revelação, ou seja, a maneira que se utiliza para contar à criança o que é ser “filho adoptivo” e porque é que ela o é, também não é linear e encontra-se ligada aos sentimentos e afectos de cada um.
Após estas duas considerações que penso preponderantes quando me proponho falar sobre o que foi e é para mim ser “filho adoptivo”, resta-me frisar mais um aspecto que considero ser de extrema importância: o ser filho adoptivo é ser-se filho de alguém, tal como os filhos biológicos o são das pessoas com quem vivem. Talvez por isso tenha dificuldade em pensar em associações de pais adoptivos, porquanto também não existem associações exclusivamente de pais biológicos. Neste mesmo contexto, tenho dificuldade em pensar na tão falada necessidade de criar condições especiais para a adopção de crianças deficientes, enquanto essas mesmas condições não existirem para famílias biológicas. Caso contrário, corremos o risco de tornar a adopção num “negócio”.
Abro aqui um parêntesis para agradecer ao Prof. Eduardo Sá o facto de me ter transmitido um conceito importante para a distinção dos pais até então denominados naturais e adoptivos – pais biológicos, que nos casos de adopção, me parecem tão somente isso mesmo, veículos para a reprodução e nascimento de um ser humano.
Esta história, que podia começar com “Era uma vez…”, desenrola-se num ambiente onde o importante era ter um filho para amar, respeitar e para enfrentar todos os aspectos positivos, mas também todos os obstáculos da paternidade. Vencer dificuldades, contrariedades e festejar alegrias, tornam-se o dia a dia de três pessoas que a pouco e pouco foram aprendendo a conhecer-se, a partilhar os seus espaços, a sentirem-se uma família e a construírem um futuro a três.
Afinal que diferença das famílias biológicas?
Aos 13 meses de idade – e após biologicamente ter nascido a 21.12.1966, no frio do Inverno, senti de forma marcante o nascimento caloroso de uma família expectante pelo nascimento de uma criança, sonhada, imaginada e amada, muito antes de existir fisicamente. Talvez por isso, ao fim de 20 anos uma imagem permanecia na minha memória: a entrada ao colo de alguém, numa sala pequena onde existia um móvel com uma televisão, uma mesa de camilha, dois sofás e duas pessoas de idade sentadas e que após a minha entrada caminharam para mim de braços abertos. Recordo-me ainda da minha mãe a meu lado, mas já não me recordo da pessoa que estava comigo ao colo, talvez porque não a via, porque estava por trás de que o meu olhar podia percepcionar. Perante a recordação repetida destas imagens, tive necessidade de tentar clarificar se alguma vez, todo este “cenário” tinha acontecido, até porque as pessoas me eram familiares: as duas pessoas de idade, conforme a minha mãe me confirmou, eram os meus avós paternos, e esta situação ocorreu de facto numa fase da minha vida: no dia 3 de Fevereiro de 1968, dia em que nasci para a família que ao longo destes 27 anos me amou e me fez amar a vida acima de tudo.
Ao longo destes já quase 28 anos, fomos desenvolvendo laços tão poderosos, que nos levaram a possuir maneiras idênticas de ser, estar e agir, que levam muitas vezes pessoas que, sabendo da adopção, fazem comparações com fundamento biológico, entre mim e os meus pais, chegando mesmo, aquando do nascimento do meu filho, a encontrarem semelhanças físicas entre ele e os avós paternos.
No entanto, e talvez porque durante muito tempo vivi num meio pequeno, e numa época em que a adopção era como um tabu, num processo de filiação, fui confrontado por diversas vezes com pessoas que, referindo-se a mim o faziam de forma subtil, como sendo “aquele que vive em casa de…”, ou então, dizendo em voz baixa “ele não é filho, ele é adoptado”. A estas afirmações, e quando me eram perceptíveis, sentia-me capaz de responder encarando frontalmente a forma como me tinha tornado filho dos meus pais – a adopção – e de questionar as pessoas sobre o que viam de problemático no meu processo de filiação. Evidentemente que esta postura só era possível, porque desde sempre os meus pais estiveram atentos, e souberam esperar o momento certo para me revelarem de forma clara e sem preconceitos, admitindo a sua incapacidade biológica de gerar um filho, a forma como me havia tornado parte integrante e indispensável daquela família.
Evidentemente que, para que tudo fosse encarado de forma natural, era indispensável o apoio de toda a família materna e paterna. Sobre este facto, única referencia que posso fazer é que senti-me sempre tão neto, sobrinho e primo como qualquer outra criança que havia no seio da família.
Durante a minha infância e adolescência, vivi, como qualquer outra criança e jovem “problemas familiares”, próprios do desenvolvimento, e da relação familiar. Tive, como qualquer outra criança, pela parte dos meus pais repreensões quando fazia algo que eles achavam errado. Julgo que fui sempre encarado como filho na plena acepção da palavra e nunca senti que as pessoas fossem mais ou menos permissivas comigo pelo facto de ter chegado à minha família pela via da adopção.
Mentiria se lhes dissesse que nunca pensei que era filho adoptivo, principalmente, na fase da adolescência. No entanto, e mais uma vez, a forma como sempre foi encarado no seio da família o desenvolvimento de qualquer pessoa, e a atenção com que estavam a todos estes processos de modificações que ocorrem na vida dos jovens, levaram-me a superar aquilo que considero ter sido a fase mais problemática no que respeita à minha vivência da adopção.
Vivi também algumas situações menos agradáveis, consequentes da falta de cultura ou de tacto, de pessoas que punham em causa a minha filiação e a minha vinculação àqueles que sempre considerei, amei e respeitei como pais. Talvez a experiência mais marcante a este nível, tenha sido a que vivi ainda na escola primária, quando um dia chego às aulas e vejo no quadro o nome “João Paulo R. da S. P.”. Perante este facto, todos os alunos, incluindo eu próprio, nos questionávamos sobre a existência de um novo elemento na sala de aula, uma vez que o nome que utilizava era o que hoje tenho e que legalmente só escolhi no final dos anos 70, quando a Adopção Plena entrou em vigor. No entanto, e quando chegou o professor, ele falou nestes termos: “João Paulo, a partir de hoje este é o teu nome, é aquele que tens de escrever em todas as provas que fizeres, bem como em todos os papeis que preencheres (…)”. Não me recordo agora se era do meu conhecimento ou não a existência deste nome que legalmente era o meu, sei no entanto, que senti profundamente aquilo que considerei e ainda considero uma violação a uma criança de 6,7 anos de idade.
Posso afirmar, que desde sempre, as pessoas que me fizeram sentir de forma mais marcante a adopção foram pessoas que considerava de mais elevado nível cultural. Ao relembrar hoje este facto, não deixa de ser surpreendente que mesmo no meu núcleo de amigos nunca, mas mesmo nunca, a adopção foi referida em sentido pejorativo, nem foi utilizada para me minimizar perante os outros. Hoje ainda, e talvez devido à minha formação, ao olhar para trás e ao constatar a dificuldade que tinha, e tenho, em fazer amizades profundas e em estar em grandes grupos, sou levado a questionar-me sobre a influencia do abandono, e o medo de o voltar a ser. Na relação que mantinha com algumas pessoas, muitas vezes era eu que, precipitadamente, fugia, sendo assim eu a abandonar antes que me abandonassem.
Será que era assim, ou será que eu era assim mesmo, inconstante, imprevisível e desejoso de ter um mundo só para mim?
Para que possam ver mais claramente a forma como a adopção foi sempre encarada no seio da família, refiro-vos ainda mais uma das muitas conversas que sobre este tema mantive com os meus pais, onde uma vez, eles me disseram que a partir daquela data, tudo o que eu pretendesse saber sobre a minha história pessoal e que ainda não tivesse sido falado seria da minha responsabilidade perguntar. Encaro este facto, como a forma mais hábil de me dizerem “agora que cresceste, cabe-te a ti o querer esclarecer o que aches estar ainda pouco claro”.
Sem tabus, sem preconceitos, sem medos (somente com aqueles naturais da diferença de gerações), falámos sempre de todos os assuntos, tentando pelo diálogo, e pela troca de experiências ajudar-nos mutuamente a crescer e a conhecermo-nos.
Sei que também todos vós já sentiram o que é ser filho, alguns sentem a paternidade, por isso, cabe a vós dizerem-me qual a diferença na relação de filiação – quando um processo de adopção é encarado como uma forma natural de ter filhos – entre um filho biológico e um filho adoptado. Cabe a vós dizerem-me o que é mais importante numa relação de paternidade se a gestação, se a relação que se estabelece entre pais e filhos e a consequente presença nos bons e maus momentos, a ajuda no ultrapassar das barreiras da vida ou a concepção de um feto. Enfim, será mais importante o filho da barriga ou o filho do coração?
Evidentemente que quando coloco esta questão, me refiro tão somente àquelas situações em que as mães e os pais se limitam a ser veículos para a gestação de uma criança.
A minha questão toma tanto mais significado, quanto mais atendermos para a forma que os meus pais encontraram para me revelar e explicar a adopção. Eles disseram-me entre outras coisas uma que é tão somente isto:
“(…) Não andaste na barriga da mamã, mas andaste no nosso coração(…)”

.png)


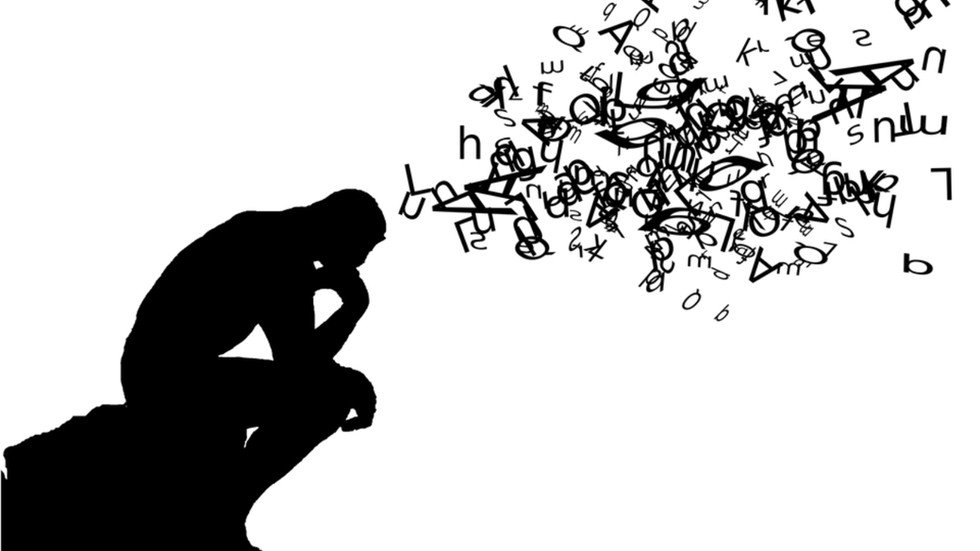
Comments